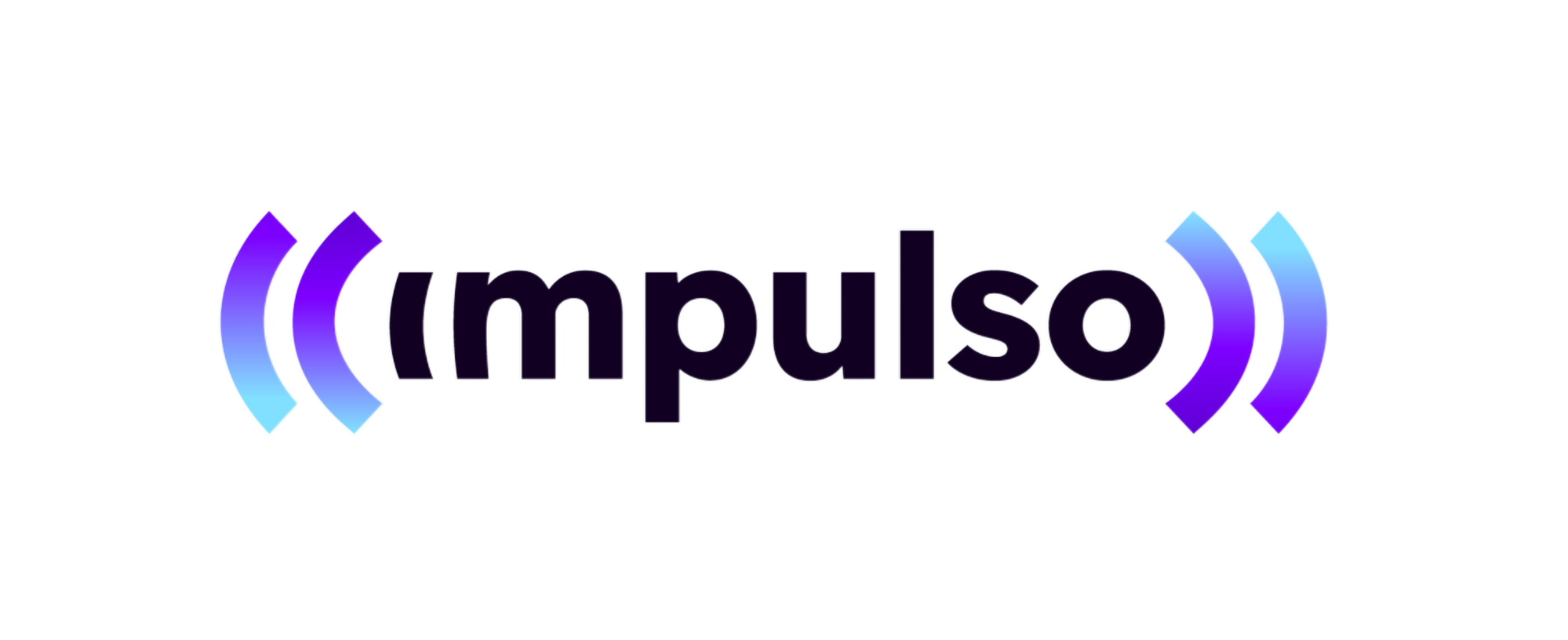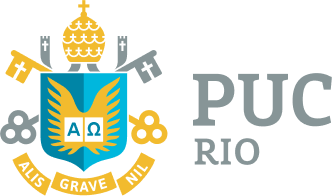No escurinho
“Olha a pipoca!”. O estouro do milho e o burburinho da bilheteria inauguram o desfile de sons que é o ritual de ir a um dos poucos cinemas de rua que restaram no Rio. Depois, vêm os ruídos dos corpos em contato com as poltronas, a música breve dos celulares sendo desligados. “Desliguem seus telefones, o filme já vai começar” é a deixa para um silêncio efêmero. O intervalo é logo quebrado pelo som das caixas amplificadoras que liberam vozes, sotaques, gritos e as trilhas sonoras dos filmes. Por vezes, essas sonoridades se misturam às vozes sussurradas de alguns espectadores e aos “shiiiis” de outros tantos incomodados, compondo um rearranjo a cada nova sessão.
Nas primeiras décadas do século XX, nos grandes palácios cinematográficos, que compunham com teatros e cabarés o entorno cultural da Cinelândia, havia salas de espera, em que os espectadores podiam aguardar o filme. No Cine Odeon — hoje a única sala de exibição remanescente naquela praça —, por diversas vezes se apresentou Ernesto Nazareth, músico que dedicou seu famoso tango Odeon ao lugar onde embalou espectadores e acompanhou filmes mudos ao piano.
A experiência contemporânea de ir ao cinema passeia tanto por rupturas quanto por alguns ruídos remanescentes do passado. Projeção digital e sistema de som de última geração marcam as películas de hoje. Mas, finda a sessão, o espectador é devolvido ao burburinho das ruas, à mesa do café ou do restaurante, onde vai poder comentar o filme num bom dedo de prosa.