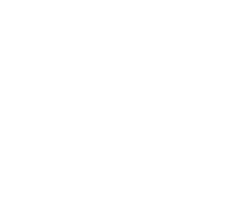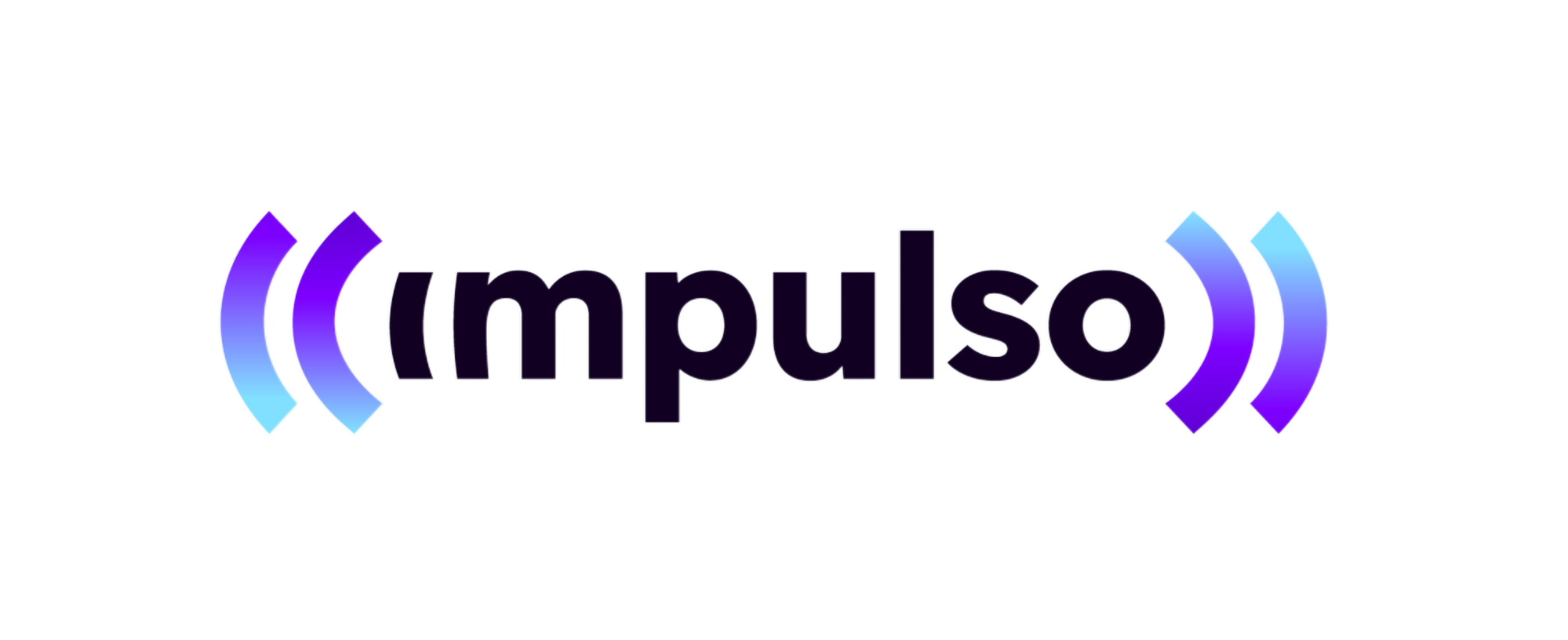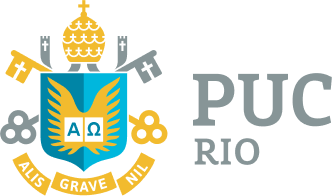Furos nos Maciços
A história dos cortes dos morros do Rio de Janeiro está intimamente ligada ao crescimento e à modernização da cidade ao longo dos séculos XIX e XX, quando a tecnologia já permite, com maior contundência e facilidade a abertura de túneis, cortes de passagem e a utilização de pedreiras para viabilizar o tráfego e a expansão urbana. Os morros, que são características naturais da geomorfologia do Rio de Janeiro, com suas encostas íngremes e formação rochosa, sempre representaram tanto um obstáculo do ponto de vista construtivo, quanto uma oportunidade para o aproveitamento de materiais de empréstimo.
No início do século XIX, o Rio de Janeiro começou a passar por um processo de urbanização mais intenso, especialmente com a chegada da família real portuguesa em 1808. No entanto, as limitações impostas pelos morros, que fragmentavam a cidade e dificultavam a comunicação entre as diferentes zonas, foram um dos principais desafios do crescimento urbano. Foi nesse contexto que surgiram os primeiros esforços para cortar ou destruir morros e construir passagens, com o objetivo de melhorar o acesso e a circulação entre o Centro e as áreas suburbanas (lembrando que Zona Sul se inclui nessa categoria de subúrbio).
O desmonte do Morro do Senado, já no final do século XIX vai marcar o modelo de urbanização que vai conduzir a passagem para o modelo republicano de sociedade. Em 1879 foi autorizada a derrubada do Morro, para a utilização de seus materiais para os aterramentos do Saco de São Diogo (atual Canal do Mangue), brejos e lagunas na região da Central do Brasil e região portuária, dando espaço para a abertura da atual Praça da Cruz Vermelha. Essa obra durou mais de 20 anos, sendo seu volume de materiais, responsáveis pela pavimentação da Cidade Nova a região portuária pelas Avenidas Rodrigues Alves e Francisco Bicalho.
A tecnologia avança e a primeira perfuração no maciço para a construção de um túnel ocorre para a conexão entre os bairros do Rio Comprido e Laranjeiras, conhecido como Túnel da Rua Alice. O início de sua construção data de 1886, ainda no século XIX, prevendo a passagem de bondes que faziam as linhas entre os bairros. Em sequência, o túnel de passagem para a selvagem Praia de Copacabana, aproveita o estrangulamento entre os Morros da Saudade e São João, para a abertura do Túnel Velho (Alaor Prata). A condução de fluxo de bondes para a tímida planície a beira mar, ajuda a promover substancialmente a especulação imobiliária no bairro, então em descoberta. Seu apelido pegou depois da construção do Túnel Novo (Túnel do Leme), já nos primeiros anos do século seguinte. Este túnel, por sua vez, perfurou a ombreira rebaixada de conexão entre os Morros de São João e da Babilônia, encurtando o caminho entre a enseada da Praia da Saudade (atual Iate clube do Brasil) e a Praia do Leme, a primeira praia de “mar aberto” a ser foco da expansão urbana. Os anos que se seguem consagram a Praia de Copacabana como princesinha do mar, exportando cultura e identidade carioca para o mundo. O Copacabana Palace é, sem dúvida, a expressão materializada no espaço da pujança com que a sociedade da época valorizou esse sítio.
Voltando a região da Central do Brasil e a zona portuária, em 1919, foi construído um pequeno Túnel, denominado João Ricardo, avançando sob o Morro da Providência, encurtando o caminho entre o Campo de Santana e o Porto. O poder tecnológico a favor da destruição dos maciços rochosos cariocas ganha força com a industrialização e as necessidades de locomoção, frente ao relevo acidentado da cidade e os interesses econômicos das empreiteiras e imobiliárias, convergem com um poder estatal para as incessantes obras de teor geológico. Como ícone da intervenção urbana, com uma demonstração de força quase que tectônica, o Desmonte do Morro do Castelo, na década de 1920, marcou a história como um grande projeto de modificação da geografia urbana carioca, abrindo caminho para a construção de novas avenidas e facilitando a expansão da cidade. O Morro do Castelo, que antes acomodava o centro da ocupação da cidade, foi demolido para dar lugar à Avenida Central e à Praça XV de Novembro, com o objetivo de facilitar a circulação dos ventos na cidade, abrindo para um maior fluxo de veículos e aproveitar para aterrar mais áreas alagadas e dar o ar de urbanidade moderna e higienista da cidade, na época a moderna e recém republicana capital tropical do Brasil. Esse desmonte significou a perda de um dos mais importantes pontos de referência históricos da cidade, mas também marcou uma mudança decisiva na modernização do Rio.
Logo em sequência é, também, contundente o corte do Morro de Santo Antônio, realizado em 1950, até quase a metade da massa rochosa, preservando apenas o Mosteiro de Santo Antônio e a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco. A obra amplia o Largo da Carioca, que antes da ocupação abrigava a Lagoa de mesmo nome, e deixa clara a intenção da arquitetura moderna de visadas amplas e esplanadas. Neste caso, a conexão com a Praça da Cinelândia (Praça Marechal Floriano Peixoto) reforça o símbolo da civilidade republicana, com seus equipamentos urbanos dignos de uma sociedade laica e de poderes equilibrados em plena riqueza cultural e atualidade tecnológica: Teatro, Biblioteca, Salas de Cinema, Senado, Câmara dos Deputados e Supremo Tribunal Federal.
No entanto, é a partir da segunda metade do século XX que o Rio de Janeiro experimentou um processo mais agressivo de modificação dos morros, especialmente para a construção de túneis e cortes de passagem que conectassem as diferentes zonas da cidade. No final dos anos 1940, da Praia do Flamengo até a Zona Sul, iniciando pelo Túnel do Pasmado, facilitando a passagem de Botafogo para Praia da Saudade, emendando com a Avenida Lauro Sodré e Avenida Princesa Isabel em direção a Copacabana. Neste bairro, nas décadas seguintes, dois tuneis são perfurados nos contrafortes dos morros que o contornam: Túnel Sá Freire Alvim e Túnel Major Rubem Vaz, respectivamente ligando as ruas Tonelero a Pompeu Loureiro, sob o Morro dos Cabritos e Ruas Barata Ribeiro a Raul Pompéia, sob o Morro do Cantagalo.
De 1950 em diante, grandes túneis vão ser escavados e inaugurados conectando subterraneamente os bairros da cidade. Os Túneis André e Antônio Rebouças (Túnel Rebouças), inaugurado em 1950, e o túnel Santa Bárbara, na década de 1960, foram fundamentais para a infraestrutura viária da cidade, permitindo o trânsito mais rápido (atualmente, nem tão rápido em certos horários de engarrafamento) e o encurtamento de distâncias, perpassando topografias acidentadas. A ponta Leste da Serra da Carioca é perfurada aí em dois pontos: sob o Morro da Coroa, no Bairro de Santa Teresa e sob o Morro do Corcovado, respectivamente.
A agradável surpresa da saída da galeria escura do Túnel Rebouças para o visual da Lagoa Rodrigo de Freitas é realmente uma sensação única para quem trafega da Zona Norte para a Zona Sul. Facilidade e conforto foram as vantagens adquiridas pelo investimento de abrir um maciço espesso e cheio de heterogeneidades litológicas e estruturais em suas rochas para se construir esse túnel, garantindo durante décadas o título de sua maior extensão na cidade.
A expansão para a Barra da Tijuca pela Zona Sul, teve que enfrentar o relevo escarpado da Zona Sul, criando uma sequência de túneis que, até certo momento histórico, era vista como impossível de ser realizada: os túneis do complexo Lagoa-Barra, Zuzu Angel (1971), Joá (1971), São Conrado (1971) e Túnel acústico da PUC (1982).
Voltando para Zona Norte para facilitar certas conexões curtas o Túnel Martim de Sá (Túnel Frei Caneca) foi inaugurado em 1977 e o Túnel Noel Rosa, atravessando a Serra do Engenho novo, foi construído em 1978.
Chegando para o fim do Século XX, a construção da Linha Amarela vai obrigar a perfuração de uma sequência de contrafortes do Maciço da Tijuca em sua porção norte, inaugurada em 1997: Túnel da Covanca, Túnel falso da Suíça Carioca, Túnel Geólogo Enzo Totis e Túnel Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto. E por fim, recentemente, foram perfurados os Túneis da Grota Funda, acabando com a interrupção da subida da Serra de Guaratiba e conectando a Avenida das Américas e o Túnel da Transolímpica, cortando a Serra do Valqueire.

Túnel da Covanca, entrada pelo bairro da Água Santa

Tunel da Grota Funda
Com o passar dos anos, a técnica dos cortes e escavações foi aprimorada, com a construção de túneis modernos e a implementação de novas tecnologias para garantir a segurança e a estabilidade das escavações. O processo de corte dos morros, portanto, é uma das facetas mais marcantes da transformação urbana do Rio de Janeiro, refletindo as tensões entre a preservação do patrimônio geológico e a necessidade de modernização e expansão da cidade

Túnel Geólogo Enzo Totis na Linha Amarela, na sequencia de túneis que escavou a vertente noroeste do Maciço da Tijuca.

Entrada do Túnel André Rebouças, da Lagoa para a Zona Norte

Corte do Cantagalo, corte entre os Morros do Cabritos e Cantagalo, ligando Lagoa a Copacabana.

Tudo acontece nas vias do Rio de Janeiro, entrada do Túnel Zuzu Angel em São Conrado/ Rocinha, com ônibus atravessando a pista em uma manobra radical.

Elevado do Joá, uma das obras mais ousadas do Rio de Janeiro no costão da Pedra da Gávea sobre o mar

O metrô é sem dúvida responsável pelas maiores escavações nos maciços cariocas. Neste caso, a saída ao ar livre da Linha 4 para a estação Jardim Oceânico. Túnel no Morro Focinho do Cavalo, no Itanhangá. Atenção entre o vão e a plataforma.